Até Robinson Crusoe compreendia bem a diferença entre o preço e o valor do dinheiro
Nada é tão fundamental para o funcionamento de um mercado livre como o seu dinheiro. O dinheiro é parte integrante de todas as transações, representando um dos lados do valor em cada troca de bens e serviços. Mas afinal, qual é o preço do dinheiro?
O bem com maior liquidez tende a tornar-se o meio de troca preferencial numa sociedade — ou seja, o seu dinheiro. A denominação de preços nesse meio comum permite o cálculo económico, capacitando empreendedores a identificar oportunidades, gerar lucros e promover o desenvolvimento civilizacional.
Compreendemos como a oferta e a procura determinam o preço dos bens, mas estabelecer o preço do dinheiro é uma tarefa mais subtil. O desafio encontra-se no facto de não dispensarmos uma unidade de referência para medir o preço do dinheiro, pois os próprios preços já são expressos em dinheiro. E como não podemos recorrer a termos monetários para explicá-lo, temos de encontrar outra forma de exprimir o poder de compra do dinheiro.
As pessoas compram e vendem dinheiro (trocando bens e serviços por ele) guiadas pela expectativa sobre o que esse dinheiro lhes permitirá adquirir no futuro. Como vimos, cada indivíduo decide sempre na margem. Daí a lei da utilidade marginal decrescente. Ou seja, toda a ação passa por uma avaliação de valor, em que o agente escolhe entre o seu objetivo mais valorizado e o seu desejo seguinte. A lei da utilidade marginal decrescente é universal: quanto mais unidades de um bem alguém possui, menor será a urgência da satisfação proporcionada por cada unidade adicional.
O dinheiro segue esse mesmo princípio. O seu valor reside na satisfação suplementar que pode proporcionar. Seja em alimentos, segurança ou opções futuras, o mecanismo mantém-se. Quando os indivíduos trocamtrabalho por dinheiro, fazem-no porque valorizam mais o poder de compra do dinheiro do que o uso imediato do seu tempo. O custo do dinheiro numa troca é, portanto, a maior utilidade que alguém poderia ter extraído da quantia cedida. Se uma pessoa decide trabalhar uma hora para adquirir um bife, é porque valoriza mais o prato do que uma hora de lazer perdida.
Recordemos que a lei dos rendimentos marginais decrescentes indica que cada unidade adicional de um bem homogéneo satisfaz um desejo menos urgente. Assim, o valor que alguém atribui a uma unidade extra diminui à medida que são acrescentadas mais unidades. Contudo, o que define um bem homogéneo depende do indivíduo. O valor é subjetivo e a utilidade de cada unidade adicional de moeda depende do objetivo pessoal. Para o indivíduo, cada token monetário não é homogéneo em termos do serviço que presta. Para quem quer comprar apenas cachorros-quentes, uma “unidade de dinheiro” equivale ao preço de um cachorro-quente. Só quando acumula dinheiro suficiente para comprar mais um cachorro-quente é que considera ter acrescentado uma unidade ao bem homogéneo “dinheiro para cachorros-quentes”.
Por isso, Robinson Crusoe podia olhar para ouro e considerá-lo inútil. Não lhe dava alimento, ferramentas ou abrigo. Em isolamento, o dinheiro não tem significado. Tal como a linguagem, precisa de pelo menos duas pessoas para ser funcional. O dinheiro é, acima de tudo, uma ferramenta de comunicação.
Inflação e a Ilusão do Dinheiro Inativo
As pessoas decidem poupar, gastar ou investir de acordo com a sua preferência temporal e expectativas sobre o valor futuro da moeda. Se antecipam que o poder de compra irá aumentar, optam por poupar. Se acreditam numa queda, preferem gastar. Os investidores tomam decisões semelhantes, redirecionando fundos para ativos que acreditem que irão superar a inflação. Seja poupado ou investido, o dinheiro está sempre a cumprir uma função para o seu titular. Até o dinheiro “à margem” desempenha um papel: reduzir a incerteza. Quem mantém dinheiro em vez de gastar satisfaz o desejo de flexibilidade e proteção.
Por isso, falar em dinheiro “em circulação” é enganador. O dinheiro não flui como um rio. Está sempre em posse de alguém, sempre a cumprir uma função. As transações são ações concretas, que se verificam em momentos específicos. Dinheiro inativo não existe.
Sem referência a preços históricos, o dinheiro perderia ancoragem e o cálculo económico individual tornar-se-ia impossível. Se um pão custava $1 há um ano e hoje custa $1,10, podemos inferir a direção do poder de compra. Ao longo do tempo, estas observações fundamentam expectativas económicas. Os governos apresentam a sua própria versão desta análise: o Índice de Preços no Consumidor (IPC).
Este índice deveria refletir a “taxa de inflação” através de uma cesta de bens fixa. Porém, o IPC omite propositadamente ativos de elevado valor como imóveis, ações e obras de arte. Porquê? Porque incluir esses ativos revelaria uma verdade que os governos preferem ocultar: a inflação é muito mais abrangente do que se admite publicamente. Medir a inflação através do IPC serve para ocultar o óbvio: O aumento dos preços acompanha necessariamente — a prazo — a expansão da oferta monetária. A criação de moeda nova resulta inevitavelmente numa perda de poder de compra face ao que poderia ser.
A inflação não decorre da ganância de produtores ou de constrangimentos logísticos. É sempre, em última análise, consequência da expansão monetária. Quando se cria mais dinheiro, o seu valor decresce. Os beneficiários próximos da fonte (bancos, detentores de ativos, empresas com ligações ao Estado) lucram, enquanto os mais pobres e assalariados suportam o impacto da subida dos preços.
Os efeitos da inflação são retardados e de difícil rastreio direto, razão pela qual é frequentemente apelidada a forma mais insidiosa de roubo. Destrói poupanças, agrava a desigualdade e aumenta a instabilidade financeira. Ironia das ironias, até os ricos estariam melhor sob um regime monetário sólido. No longo prazo, a inflação prejudica todos, mesmo os que parecem beneficiar temporariamente.
As Origens do Dinheiro
Se o valor do dinheiro depende do que pode comprar — e se é sempre avaliado face a preços passados —, como adquiriu a moeda valor inicial? Para responder, temos de recuar até à economia de trocas diretas.
O bem que evoluiu para dinheiro tinha de possuir valor não monetário antes de se tornar moeda. O seu poder de compra dependia inicialmente da procura por outra finalidade. Depois de adquirir uma segunda função (meio de troca), cresceu a procura e, consequentemente, o preço. O bem passou a servir dois objetivos distintos: utilidade e meio de troca. Com o tempo, a utilidade monetária tende a superar a utilidade original.
Esta é a essência do Teorema da Regressão de Mises, que explica como o dinheiro surge espontaneamente nos mercados, sempre mantendo ligação a valorações anteriores. O dinheiro não é uma invenção estatal, mas uma manifestação do comércio voluntário.
O ouro tornou-se moeda porque respondia aos critérios fundamentais: durabilidade, divisibilidade, reconhecibilidade, portabilidade e escassez. O valor do ouro na joalharia e na indústria continua a conferir-lhe utilidade. Durante séculos, as notas bancárias eram apenas recibos resgatáveis por ouro. O papel leve foi solução para o problema do transporte. Infelizmente, os emissores rapidamente perceberam que podiam emitir mais recibos do que ouro em reserva. Tal prática mantém-se ainda hoje.
Quando o elo entre o ouro e a nota foi cortado, governos e bancos centrais passaram a criar moeda “ex nihilo”, originando os atuais sistemas fiduciários sem cobertura real. Sob regimes fiduciários, bancos politicamente ligados são resgatados mesmo em situação de falência. O resultado é risco moral, distorção de sinais de risco e instabilidade sistémica, financiados pela expropriação discreta das poupanças via inflação.
A ligação do dinheiro aos preços históricos é fundamental para o funcionamento do mercado. Sem ela, o cálculo económico individual seria impossível. O Teorema da Regressão Monetária, já referido, é uma perspetiva praxeológica frequentemente ignorada nas discussões sobre dinheiro. Demonstra que a moeda não é uma abstração criada por burocratas, mas tem ligação real ao momento em que alguém quis trocar meios por um fim e assim “inventou” moeda no mercado livre.
O dinheiro resulta de trocas voluntárias, não de invenção política, ilusão coletiva ou contrato social. Qualquer mercadoria com oferta limitada pode servir de moeda, desde que cumpra os demais requisitos para meio de troca: durabilidade, portabilidade, divisibilidade, uniformidade e aceitabilidade.
Se a Mona Lisa fosse infinitamente divisível, os seus fragmentos poderiam ter servido de moeda, desde que a autenticidade fosse facilmente comprovável.
A propósito, há uma história sobre alguns dos grandes pintores do século XX que ilustra como o aumento da oferta de um bem monetário afeta o valor percebido. Estes artistas descobriram que os seus autógrafos tinham valor e começaram a pagar refeições apenas com uma assinatura. Salvador Dalí terá ido ao ponto de assinar o carro que destruiu num acidente, transformando-o em obra de arte de valor. Contudo, estas práticas deixaram de resultar; quanto mais autógrafos, menos valioso era cada novo, ilustrando perfeitamente a lei dos rendimentos decrescentes. Ao aumentar a quantidade, reduziam a qualidade.
O Maior Esquema em Pirâmide do Mundo
As moedas fiduciárias obedecem à mesma lógica: o aumento da oferta desvaloriza cada unidade existente. Os primeiros a receber o novo dinheiro beneficiam; todos os outros sofrem. A inflação não é apenas técnica, mas também moral. Distorce o cálculo económico, favorece o endividamento em vez da poupança e prejudica quem menos se pode proteger. Sob esta perspetiva, a moeda fiduciária é o maior esquema em pirâmide, enriquecendo o topo à custa da base.
Continuamos a aceitar moeda falhada porque é a herança recebida — não porque nos sirva. Porém, quando as pessoas perceberem que moeda sólida (imune à contrafação) é mais benéfica para o mercado e a sociedade, deixaremos de aceitar recibos de ouro falsos e começaremos a construir um sistema baseado em valor real, honesto e conquistado.
A moeda sólida emerge da escolha voluntária, nunca do decreto político. Qualquer bem que satisfaça os critérios fundamentais pode ser moeda, mas só a moeda sólida permite que a civilização prospere a longo prazo. O dinheiro é mais do que ferramenta económica; é instituição moral. Quando se corrompe o dinheiro, tudo o que depende dele — poupança, preços, incentivos e confiança — se distorce. Mas se a moeda for honesta, o mercado pode coordenar produção, sinalizar escassez, recompensar a poupança e proteger os vulneráveis.
No final, o dinheiro é muito mais do que um meio de troca. É proteção do tempo, registo de confiança e a linguagem universal da cooperação humana. Corrompê-lo é destruir não só a economia, mas a própria civilização.
“O homem é um ser míope, vê apenas o imediato, e os seus afetos são geralmente conselheiros falhos, tal como as suas paixões não o servem bem.”

Contrafação: Dinheiro Moderno e a Ilusão Fiduciária
Agora que explicámos como um bem transacionável se converte em moeda num mercado livre e como o pensamento de baixa preferência temporal promove progresso e deflação, podemos analisar de perto o funcionamento atual do dinheiro. Provavelmente já ouviu falar de taxas de juro negativas e
perguntou-se como isso se articula com o princípio base de que a preferência temporal é sempre positiva. Ou já reparou no aumento dos preços de consumo, enquanto os meios de comunicação culpam tudo e todos menos a expansão monetária.
Encarar a verdade sobre o dinheiro moderno é difícil, pois quem compreende a gravidade do problema vê o mundo de forma desanimadora. O ser humano não resiste à tentação de enriquecer à custa de terceiros através da impressão de moeda. A única maneira de evitar isto seria eliminar o fator humano do processo — ou, pelo menos, separar moeda e Estado. O Nobel da Economia Friedrich Hayek entendia que isso só seria possível “por uma via subtil e indireta.”
O Reino Unido foi o primeiro país a abalar a ligação entre as moedas nacionais e o ouro. Antes da Primeira Guerra Mundial, quase todas as moedas eram convertíveis em ouro, padrão consolidado ao longo de milénios como o bem mais transacionável do planeta. Em 1971, com o anúncio de Richard Nixon sobre a “suspensão temporária da convertibilidade do dólar em ouro”, cortou-se unilateralmente o último vínculo. Esta ação serviu — ao menos parcialmente — para financiar a Guerra do Vietname e reforçar o poder político.
Não vamos detalhar todos os aspetos da moeda fiduciária, mas o essencial é: a moeda estatal moderna não tem respaldo físico, sendo inteiramente criada como dívida. A moeda fiduciária faz-se passar por dinheiro, mas ao contrário da moeda genuína (fruto de troca voluntária), é instrumento de dívida e controlo.
Cada novo dólar, euro ou yuan surge quando um banco emite um empréstimo. Esse dinheiro deve ser reembolsado com juros. E como esses juros nunca são criados em simultâneo com o capital, nunca há dinheiro suficiente para saldar todas as dívidas; é preciso criar ainda mais dívida para sustentar o sistema. Os bancos centrais manipulam ainda mais a oferta monetária através de resgates, que salvam bancos ineficientes da falência, e da flexibilização quantitativa, agravando o problema.
Flexibilização quantitativa significa que o banco central compra obrigações do Estado criando moeda nova, trocando promessas de pagamento por dinheiro recém-criado. Uma obrigação é a promessa estatal de reembolsar, com juros, o montante emprestado. Essa promessa é garantida pelo poder de tributar presentes e futuros cidadãos, enquanto nós — e as gerações vindouras — enfrentamos o aumento dos preços. O resultado é uma extração contínua e silenciosa de riqueza dos produtivos, por via da inflação e servidão por dívida.
A impressão de dinheiro prossegue sob o paradigma da economia keynesiana — doutrina que sustenta grande parte das políticas públicas atuais. Os keynesianos defendem que o consumo é motor da economia, e que se o setor privado não o fizer, o Estado deverá intervir. Alegam que cada euro gasto representa valor idêntico, ignorando o efeito diluidor da inflação. É, como em A Falácia da Janela Partida de Bastiat: adicionar zeros só aumenta o número, não o valor.
Se a impressão de moeda realmente gerasse riqueza, todos seríamos proprietários de super-iates. A riqueza nasce da produção, planeamento e troca voluntária, não de inchar o balanço dos bancos centrais. O verdadeiro progresso advém das trocas entre indivíduos e da acumulação de capital, da renúncia ao consumo imediato e do investimento no futuro.
O Destino Final da Moeda Fiduciária
Imprimir dinheiro não acelera o mercado, apenas o distorce e faz regredir. Literalmente, aquilo que é lento e inepto segue-se. O poder de compra em queda contínua dificulta o cálculo económico e compromete o planeamento de longo prazo.
Todas as moedas fiduciárias acabam eventualmente. Algumas colapsam por hiperinflação; outras são abandonadas ou absorvidas por sistemas mais vastos (como moedas nacionais substituídas pelo euro). Antes do fim, servem um propósito oculto — transferir riqueza dos criadores de valor para os que detêm poder político.
Este é o cerne do efeito Cantillon, nome inspirado no economista do século XVIII Richard Cantillon. O novo dinheiro, ao entrar na economia, favorece os primeiros recebedores — que podem adquirir bens antes de subir o preço. Os mais afastados da fonte (trabalhadores e aforradores) absorvem o impacto. Ser pobre num sistema fiduciário é muito oneroso.
Ainda assim, políticos, banqueiros centrais e economistas do establishment continuam a afirmar que taxa de inflação “saudável” é necessária. Deviam saber melhor. A inflação não gera prosperidade. No melhor dos casos, transfere poder de compra; no pior, mina as fundações da civilização ao destruir a confiança na moeda, na poupança e na cooperação. A abundância de bens acessíveis que vemos hoje foi criada apesar de impostos, fronteiras, inflação e burocracia — nunca graças a eles.
O Bom, o Mau e o Vil
Quando o mercado funciona sem entraves, proporciona melhores bens, a preços mais baixos, para mais pessoas. Isso é progresso real. Curiosamente, a praxeologia não é apenas ferramenta crítica, mas também enquadramento para reconhecimento. Muitos ficam cínicos ao entenderem a dimensão da disfunção, mas a praxeologia traz lucidez: mostra que são os produtores os verdadeiros motores do progresso humano. Não os governos. Depois de perceber isto, até os trabalhos mais simples assumem valor. O operador de caixa, a equipa de limpeza, o condutor de táxi — todos contribuem para satisfazer necessidades humanas através da cooperação voluntária e da criação de valor. Eles personificam a civilização.
Os mercados produzem bens; os governos, quase sempre, produzem males. A concorrência catallática, onde empresas competem para melhor servir clientes, impulsiona a inovação. A competição política, em que partidos disputam o Estado, recompensa manobras e não mérito. Nos mercados vencem os mais adaptáveis; na política, os menos escrupulosos.
A praxeologia ensina-nos a compreender incentivos humanos. Ensina a observar as ações, não apenas palavras. E, acima de tudo, incita-nos a analisar o que poderia ter acontecido, não apenas o que ocorreu. Esse é o mundo invisível, os futuros apagados por intervenções.
Medo, Incerteza e Dúvida
A psicologia humana inclina-se para o medo. Evoluímos para enfrentar ameaças, não para contemplar beleza. Por isso, o alarmismo espalha-se mais depressa do que o otimismo. A resposta proposta para toda “crise” — terrorismo, pandemias, clima — é invariavelmente: mais controlo político.
Quem estuda ação humana sabe a razão. Para cada agente, o fim justifica sempre os meios. O problema é que tal lógica se aplica a quem procura poder. Oferecem segurança em troca de liberdade, mas a história ensina que trocas movidas pelo medo raramente compensam. Entender estes mecanismos clarifica o mundo, dissipa o ruído.
Desliga-se a televisão; recupera-se o tempo. Percebe-se que acumular capital e libertar tempo não são atitudes egoístas, mas base para ajudar outros.
Investir em si — nas competências, nas poupanças, nas relações — amplia o potencial coletivo. Participa na divisão do trabalho, cria valor, de forma voluntária. A ação mais radical num sistema disfuncional é construir fora dele algo melhor.
Cada vez que utiliza moeda fiduciária, paga aos seus emissores com tempo. Se conseguir evitar usá-la, contribui para um mundo com menos fraude e mentira. Não é tarefa fácil — mas os projetos dignos nunca são simples.
Knut Svanholm é educador Bitcoin, autor, pensador amador e podcaster. Este excerto integra o seu livro renovado Praxeologia: A Mão Invisível que o Alimenta, publicado pela Lemniscate Media, 27 de maio de 2025.
BM Big Reads são artigos semanais aprofundados sobre temas relevantes para o mundo Bitcoin. As opiniões aqui expressas são da exclusiva responsabilidade dos autores e não vinculam a BTC Inc ou a Bitcoin Magazine. Se deseja propor um artigo para este formato, contacte editor[at]bitcoinmagazine.com.
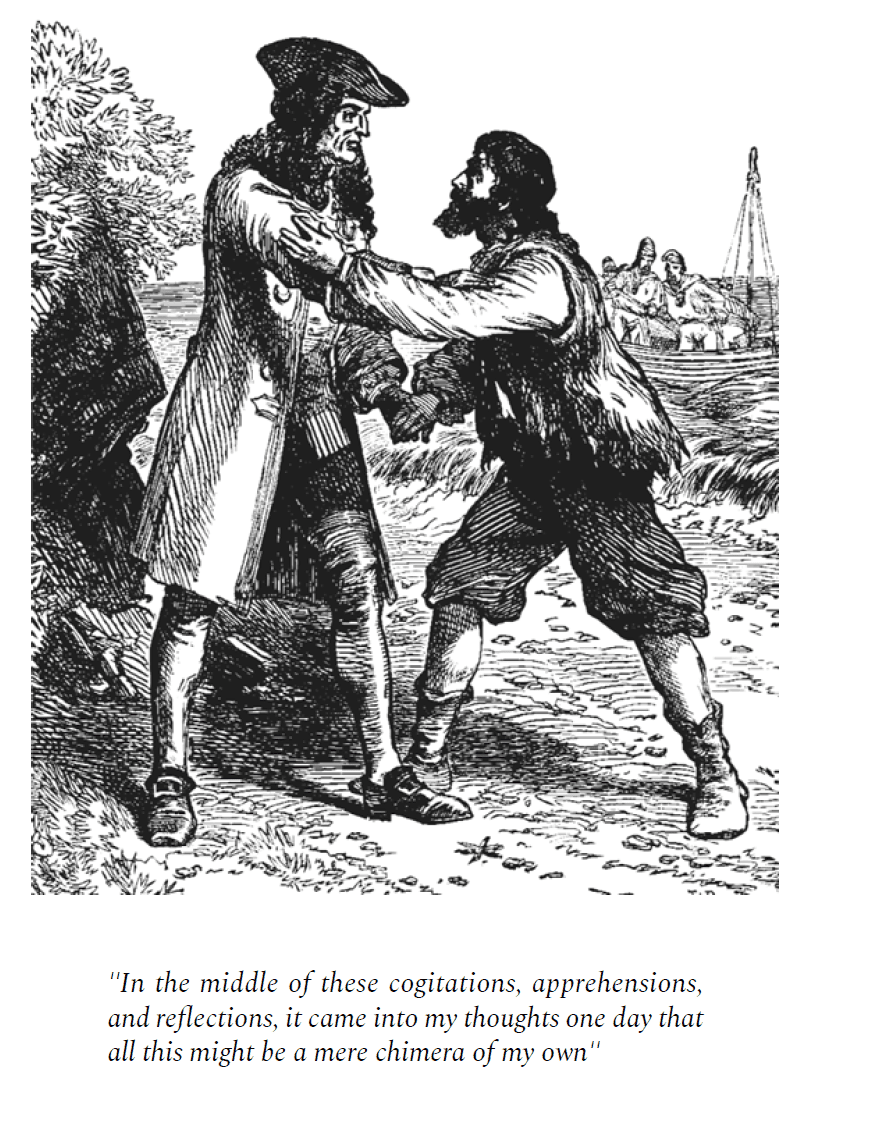
Aviso Legal:
- Este artigo foi republicado de [Bitcoinmagazine]. Todos os direitos de autor pertencem ao autor original [Knut Svanholm]. Caso surjam objeções a esta publicação, contacte a equipa Gate Learn para resolução célere.
- Aviso de responsabilidade: As opiniões e pontos de vista expressos neste artigo são apenas do autor e não constituem aconselhamento financeiro ou de investimento.
- As traduções deste artigo para outros idiomas são realizadas pela equipa Gate Learn. Salvo indicação em contrário, é proibida a reprodução, distribuição ou plágio destes artigos traduzidos.
Artigos relacionados

Utilização de Bitcoin (BTC) em El Salvador - Análise do Estado Atual

O que é o Gate Pay?

O que é o BNB?

O que é o USDC?

O que é Coti? Tudo o que precisa saber sobre a COTI
